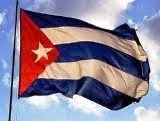Deputado Marcelo Freixo, imprescindível para o Rio de Janeiro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARCELO FREIXO - O deputado é o inimigo número 1 das milícias e dos corruptos do Rio de Janeiro
Enquanto mídia, governo e boa parte da população do Rio de Janeiro celebram a nova fase do combate ao crime organizado na cidade, um homem pede cautela. Mais do que isso: pede providências bem mais profundas do que as UPPs. O deputado estadual Marcelo Freixo é um dos maiores inimigos das milícias, do violento e corrupto acordo entre governo e policiais que buscam assumir o controle de regiões antes dominadas pelo tráfico. Por isso sua cabeça está a prêmio. Hoje ele vive sob um duro esquema de proteção e já teve que deixar o país quando as ameaças se tornaram mais perigosas. Isso o fará desistir do mandato? Só se for para virar prefeito do Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro está eufórico. A cidade se prepara para se tornar o centro do universo: sede da final da Copa do Mundo de 2014, da Olimpíada de 2016 e da Petrobras, empresa que neste momento esburaca a camada do pré-sal no fundo do oceano para trazer à superfície trilhões de litros de petróleo. A polícia sobe morros e instala UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, que colocam traficantes para correr. Na fachada do hotel Marina, na beira da praia do Leblon, um imenso cartaz declara que “O Rio é dos bons” e agradece: “Obrigado, Força Policial”. Os famosos botecos da cidade são só sorrisos, celebrações de negócios fechados e reuniões sobre futuras oportunidades. Governos municipal, estadual e federal, pela primeira vez aliados entre si, com amplo apoio da mídia, em especial da carioca Rede Globo, comemoram os bons tempos.
Em meio a tanto oba-oba, um sujeito insiste em jogar areia na festa. O deputado estadual Marcelo Freixo, contrariando o otimismo generalizado, afirma com todas as letras: “O Rio nunca correu tanto risco de cair nas mãos da máfia”. Ele se refere às milícias, formadas por policiais, aliadas de vários políticos locais e paparicadas por todos os principais partidos. “Elas infiltraram o sistema todo”, diz ele. Até a casa onde ele trabalha, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Freixo calcula que algo em torno de 90% dos deputados estaduais por lá têm ligações com centros sociais, as instituições que proveem serviços que deveriam ser papel do estado em comunidades carentes. E que geralmente são o braço comunitário do poder mafioso das milícias.
Por causa dessa mania de atrapalhar festas, Freixo já recebeu 27 ameaças de morte e só anda pela cidade escoltado por policiais à paisana. Não pode ir à praia, apesar de morar pertinho do mar, e só vai ao cinema se planejar com antecedência. As ameaças começaram em 2008, quando Freixo comandou uma CPI que investigou as milícias e terminou com a prisão de mais de 500 pessoas, incluindo vereadores e deputados. Apesar dos indiciamentos, ele afirma que nenhuma das mais de 50 providências sugeridas pela CPI foram colocadas em prática e que, como consequência, o poder miliciano não parou de crescer. “Havia 170 milícias quando fizemos a CPI. Agora são pelo menos 300”, diz.
Em agosto deste ano, a juíza Patrícia Acioli, eleitora de Freixo que vinha punindo milicianos, foi morta por policiais – 21 balas. De lá para cá, as ameaças contra o deputado aumentaram. Revelou-se que um policial tinha recebido a oferta de R$ 400 mil para matá-lo. Em novembro, com o estresse em sua família beirando o insuportável, ele resolveu sair do Brasil e ir passar duas semanas na Espanha, para se proteger dos assassinos e permitir que a polícia reforçasse sua segurança e blindasse seu carro.
Freixo foi a inspiração para o personagem Diogo Fraga, que, ao lado do Coronel Nascimento, foi um dos protagonistas do filme Tropa de elite 2, que expôs as conexões entre o crime organizado e o poder público no Rio e no Brasil todo. Assim como o personagem do filme, ele é historiador, ativista de direitos humanos e deu aulas de história para detentos em presídios. Assim como Fraga, também Freixo conquistou a confiança tanto dos presos quanto de vários policiais do Bope e, antes de virar político, participou diversas vezes de negociações entre a polícia e detentos para encerrar rebeliões na cadeia. “O filme só não reflete a realidade quando retrata minha vida pessoal”, diz. “Eu não me casei com a ex-mulher do Coronel Nascimento.”
Eleito deputado estadual pelo PSOL com 13.507 votos em 2006, Freixo reelegeu-se em 2010 com a segunda maior votação do estado: 177.253 votos, menor apenas que a do apresentador policialesco Wagner Montes. Ele é um dos parlamentares mais admirados da casa, inclusive por políticos de direita. É também um dos deputados mais ativos no Palácio Tiradentes. Durante as sessões plenárias, enquanto a maioria dos deputados se agrupa em animadas rodinhas festivas, ele se mantém sério, concentrado, fazendo anotações e discordando frequentemente dos oradores. Muitas votações acabam com apenas um voto contrário quebrando a unanimidade: o dele.
Agora, mantendo o hábito de estragar festas, Freixo prepara-se para lançar-se candidato a prefeito do Rio, enfrentando uma imensa coalizão de quase 20 partidos que apoiam a reeleição do atual prefeito, Eduardo Paes. Paes conta com o apoio quase unânime da grande mídia, além de uma infinidade de financiadores. Já Freixo terá uma dúzia de segundos na TV, o engajamento de militantes voluntários e o apoio de alguns empresários e artistas, entre eles seu amigo José Padilha, diretor de Tropa de elite, e de Wagner Moura, o ator que interpretou o Coronel Nascimento, nêmesis de Diogo Fraga no filme.
Apesar da luta desigual, Paes já demonstrou que está incomodado com o adversário e que pretende jogar duro com ele. Segundo o jornalista Ricardo Boechat, da BandNews, foi a equipe do prefeito que espalhou o boato, depois desmentido, de que Freixo não viajou para a Espanha para se proteger de ameaças de morte, mas para fazer palestras que já estavam agendadas previamente.
Para entrevistar Freixo, a reportagem da Trip apareceu de manhã no gabinete do deputado. A conversa transcorreu sob o olhar vigilante mas discreto dos policiais à paisana. Os encontros eram agendados pessoalmente, por receio de que houvesse um grampo no telefone e que nossa combinação desse pistas sobre a agenda de Freixo.
Apesar da pressão de viver sob ameaça de morte, Freixo se mantém bem-humorado, faz piadas sobre a política no Rio e não se arrepende de nada. “Eu faria tudo de novo”, diz.
Afinal, UPP é bom ou ruim?
Olha, eu sempre defendi o policiamento comunitário. Eu acho que o princípio de a polícia estar no lugar é inquestionável. Se você disser “não tem mais o tráfico armado aqui, não tem mais invasão de facção, não tem mais troca de tiro”, não dá para dizer que isso é ruim. Ponto. Agora, dizer que a solução é essa e que o problema está resolvido... Qualquer polícia do mundo, para avançar, como aconteceu na Irlanda, tem três pontos que são fundamentais. O primeiro é aproximação com a comunidade, que a UPP garante. Além disso, tem que ter valorização salarial e formação, e isso nossos policiais não têm e continuam não tendo. O salário é absurdamente baixo, a formação é muito precária. E tem que ter controle sobre a polícia. Isso a nossa também não tem. As corregedorias e ouvidorias são lamentáveis.
A história que Tropa de elite 2 conta é mesmo a sua?
O Tropa 2 é baseado no que aconteceu na CPI das Milícias, mas é um filme de ficção. E quer saber? É ficção sim porque a realidade é muito pior do que um filme é capaz de mostrar. O Bráulio [Mantovani, roteirista do filme] veio aqui à Assembleia Legislativa, assistiu a todas as sessões da CPI, leu todos os depoimentos, conversamos inúmeras vezes. Ele me deu a chance de discutir o roteiro e acolheu várias sugestões. Tomei muito café da manhã no hotel onde o Irandhir [Santos, o ator que interpretou Diogo Fraga] ficava hospedado no Flamengo, debatendo as cenas e construindo as falas. O personagem é mesmo muito baseado em mim.
E como é que começou essa sua história?
Eu sou lá de Niterói, da periferia, de um bairro chamado Fonseca. E eu sempre fui boleiro, era cabeça de área. E o único campo de futebol do Fonseca ficava dentro da cadeia. Todo domingo, eu e os meninos da favela, a Vila Ipiranga, alugávamos o campo da cadeia, você acredita nisso?
E seus pais deixavam você ir jogar bola na cadeia?
Pois é, veja como as coisas mudaram. Imagina hoje um garoto de 15 anos falando: “Mãe, eu vou jogar bola com o povo da favela no campo da cadeia”. A mãe tem um treco. Mas, para mim, a hora mais feliz era aquela: ir jogar bola na cadeia todo domingo. A gente adorava. O juiz era sempre um preso, era o único campo de futebol onde ninguém chamava o juiz de ladrão. Como ninguém nunca quer catar, geralmente o goleiro era um preso também. Eu sabia que os caras estavam presos e tudo, mas não ligava, meu negócio era jogar futebol. E aí aquilo fica de alguma maneira dentro da gente.
E isso foi criando um interesse seu pelo sistema prisional.
Exatamente. Depois fui fazer faculdade, entrei em economia e larguei quase no fim do curso para fazer história. Um dia, quando eu tinha 21 anos, estava na faculdade e vi um cartazinho muito vagabundo, que dizia “precisamos de estagiário para dar aula no presídio Edgard Costa”. Na hora eu soube que queria fazer isso.
Que história era essa de aula dentro da cadeia?
Tinha duas celas desativadas lá – eram os bons tempos, em que você podia ter cela desativada, hoje está tudo superlotado. E tinha uma socióloga chamada Regina Brasil, que era agente prisional, que propôs à direção do presídio que ela construísse uma escola ali. A direção respondeu: “Desde que não gaste dinheiro e não me encha o saco, tudo bem”. Aí ela fez esse cartaz mambembe e eu fui um dos primeiros a chegar. Ela falou: “Mas aqui não tem remuneração, é para dar aula de graça. E é para montar tudo, não tem cadeira, não tem nem quadro-negro”. Só tinha o cartazinho. E eu trabalhei anos em presídio como voluntário.
“Minha luta por direitos humanos é antiga. o mandato é mais uma etapa”
E vivia do quê?
Eu trabalhava num cursinho pré-vestibular. Mas em paralelo fui me envolvendo com organizações de direitos humanos que lidavam com prisões. Depois de dar aula, fui voluntário num projeto de prevenção ao HIV e à Aids e então virei pesquisador da área de segurança numa ONG chamada Justiça Global. E, como representante da Justiça Global, eu pertencia ao Conselho da Comunidade, que era um conselho de várias organizações de direitos humanos, previsto pela lei de execução penal. Entre 2000 e 2004, fui presidente do conselho, e aí visitei todas as prisões do Rio e passei a conhecer todos os presos pelo nome.
Todos?
Ah, não vou dizer todos, mas eu conhecia muitos. Então, quando tinha uma rebelião, e rebelião sempre se faz com refém, o Bope ia me buscar em casa. Naquela época eu já era professor de história em cursinho. Teve vezes em que aconteceu exatamente como no filme. Eu estava dando aula e recebia uma mensagem pelo celular – “urgente” – e eu já sabia o que era e interrompia a aula. Eles precisavam ter alguém negociando os termos de rendição, para criar confiabilidade. Por anos, participei da negociação de todas as rebeliões que aconteceram no Rio. E, nesse tempo todo, nunca teve uma pessoa ferida, uma pessoa morta, nenhum problema. Nunca.
Como eram essas participações nas negociações?
Eu chegava ao presídio e recebia do Bope uma avaliação da situação. Qual era o perfil da cadeia, dos presos, quem eram os líderes, quantos reféns. Primeiro tinha que haver uma negociação entre mim e os negociadores do Bope, porque eu não podia falar uma coisa e o Bope fazer outra.
Vocês não pensavam igual, né?
Não, mas eles sabiam que, se a negociação desse errado, depois seria impossível fazer outra. Até porque, se isso acontecesse, eu não estaria na próxima. E ninguém nunca mais se entregaria se eles faltassem com a palavra. Então eles não poderiam me usar pra ter a rendição das armas e depois fazer o que não estava combinado. E eu ia falar com os presos, garantia a eles que só sairia dali quando o último guarda saísse, que não teria esculacho, que não teria Carandiru – “Carandiru” era um termo sempre usado nessas situações.
Interessante o seu papel nessa história. Quando os presos não confiam no Estado e vice-versa, precisa ter alguém em quem os dois lados confiem, não é isso?
Olha, os presos nunca me pediram nada. E eu quando fui candidato nunca visitei uma prisão pra pedir apoio. Nunca fui em uma favela onde eles tinham liderança para pedir voto. Nunca pedi um cotonete para esses caras. E eles nunca me pediram nada que não fosse dentro da lei. Sempre tiveram respeito absoluto. Essa relação de saber quem é quem era fundamental na hora de negociar, porque eu não era um deles. Eu não era sócio. Não tinha sacanagem, entendeu? Tanto é que tinha um guarda, que hoje é subsecretário, que nunca participou de esquema de propina e eles aceitavam que negociasse junto comigo. Já outros guardas que participavam de esquema eles não aceitavam, porque não tinham moral.
E você considera seu trabalho como parlamentar uma continuação dessa história?
Sim, claro. A luta pelos direitos humanos é antiga, o mandato é mais uma etapa. As pessoas da equipe que trabalham comigo são as mesmas que se conheceram na luta. Quando me elegi, em 2006, foi um ano em que as milícias começaram a crescer muito. E quem conhecia as favelas no Rio já claramente identificava a milícia como algo muito perigoso e muito diferente do que a gente conhecia. E naquela época elas estavam buscando legitimidade. Eles já tinham vereadores eleitos e, quando me elegi, um miliciano foi eleito junto comigo [Freixo se refere a José Natalino Guimarães, do DEM, um policial civil que seria preso em 2008.]
Foi aí que você tomou a iniciativa de criar a CPI das Milícias?
Foi. Logo no primeiro mês de mandato, procurei alguns parlamentares que eu achava que pudessem topar essa briga e ninguém aceitou assinar comigo. Eu compreendo, é mesmo um nível de enfrentamento muito barra-pesada. Mas para a gente estava claro que era preciso fazer isso. Porque, se for pra dizer que certas coisas eu não enfrento, é melhor não ter mandato. Se eu tenho mandato, eu não tenho o direito de negar as principais lutas, por mais que isso tenha consequências. E aí fiz esse pedido de CPI no início de fevereiro de 2007 e fiquei um ano e meio esperando. Eu não tinha mais esperança de que ela fosse aberta, porque a milícia tinha muita força na casa. Tinha muita força na sociedade.
Tinha certa legitimidade, não é?
Muita. Além de ter miliciano ali dentro da Assembleia, o poder público não tinha interesse em enfrentá-las. O ex-prefeito chamava a milícia de “autodefesa comunitária”. Tem entrevista do atual prefeito no RJTV dizendo que as chamadas “polícias mineiras” eram um modelo de segurança. Os comandantes de batalhões diziam que a milícia era um mal menor, que ela ajudava a enfrentar o tráfico. Então havia uma construção de legitimidade do crime. Por isso que eu achava que era um crime ainda mais perigoso que o tráfico, porque era um crime que estava dentro do estado, que operava dentro da máquina pública, que crescia e que tinha todas as características de máfia: era extremamente violenta, extremamente bem armada, poderosa economicamente e com um projeto de poder.
E o tráfico não tem projeto de poder?
Nem de perto. Não tem projeto nem de vida, quanto mais de poder. O varejo da droga é muito violento, mas eles não sabem nem o que é estado. Vivem uma relação de poder absolutamente local, enquanto o crime organizado é sempre internacional. Crime organizado é quem faz as armas e a munição chegarem para eles.
E esse cara nós não sabemos nem o nome dele, não é? esso a eles. Quantas vezes você acha que o Nem saiu da Rocinha? É provável que nenhuma. Quantas vezes ele saiu do Rio de Janeiro? A primeira vez foi agora, quando foi levado para o presídio federal. E esse é o crime organizado? Crime organizado é onde tem dinheiro e poder, não é onde tem barbárie. Crime organizado é feito por gente fina, elegante, mas não muito sincera. E as milícias, ao contrário do tráfico, operam nessa lógica. Elas são um fenômeno recente, que começou a surgir em 2000. A primeira reportagem que menciona a palavra “milícia” foi da Vera Araújo, no O Globo, em 2005. A Verinha depois foi ameaçada de morte, foi perseguida.
O que em si já demonstra a natureza diferente da milícia, não é?
Traficantes não ameaçavam jornalistas de morte... Traficante nunca matou juiz no Rio. Traficante nunca ameaçou um parlamentar.
E nunca elegeu deputado.
Imagina. O tráfico é “já é, nóis vai”, a milícia é “vossa excelência”. E a questão é que as milícias são donas de currais eleitorais, e por isso elas interessam a muita gente, a muitos políticos. A milícia se baseia em domínio territorial. De certa maneira, ela é fruto de um processo muito antigo de uma polícia violenta, corrupta, que serve a uma elite política corrupta. A ponto de a gente ter tido como chefe da polícia durante dois governos alguém que era o chefe das quadrilhas, o Álvaro Lins [que trabalhou nos governos de Anthony e Rosinha Garotinho e acabou preso em flagrante graças às investigações da CPI]. Então a polícia historicamente se caracteriza pelo domínio de territórios, principalmente onde o estado não chega através dos seus serviços.
Onde o Estado está ausente...
Eu não gosto da teoria do estado ausente. O estado não é ausente. Ele é presente na zona sul de uma maneira e nas zonas norte e oeste de outra. Para a zona sul ele leva serviços. Nas favelas ele chega só através dos seus instrumentos de controle. Porque quando você fala de estado ausente parece que ele não tem o controle, o que não é verdade. O estado tem o controle, mas às vezes ele leiloa. A gente não tem estado paralelo no Rio, tem um estado leiloado. A propriedade é do estado, eu tomo de volta a hora que quiser expulsando os inquilinos. A UPP é a prova de que inquilino pode perder o seu prestígio. Todo vez que se desmonta uma rede de tráfico se descobre um caderninho, igual a esse seu de anotações. Precário igual. E sempre aparece lá a propina, o pagamento semanal. Sempre, não tem uma exceção. Se não pagar, para de funcionar.
E isso é o aluguel que o inquilino paga ao Estado.
É. O tráfico é inquilino, mas não se vê como inquilino. “É nóis, né?”, e aí picha lá: “CV” [Comando Vermelho]. Já a milícia não pixa “milícia” – ela apresenta um distintivo. A milícia, assim como toda máfia, não se diz criminosa. Milícia vai à reunião no Palácio. Ela se candidata a vereador. Ela inaugura obra da Cedae [a empresa de águas e esgotos do Rio] ao lado do governador. Por que milicianos inauguram uma obra do estado? Porque eles eram a base do governo naquele local. E, ao mesmo tempo, eram o crime daquele local. Crime, polícia e política se misturam.
E é um domínio territorial.
Sim, elas dominam territorialmente e militarmente. Mas, diferente do tráfico, a milícia não bota uma barricada, não impede a polícia de entrar. A milícia é a polícia. Ela domina as atividades econômicas. Por exemplo, a distribuição do gás: ninguém mais vende gás a não ser a milícia. A polícia do Rio achou um depósito em Campo Grande com 5 mil botijões de gás, que ocupava um quarteirão inteiro. Domina também o transporte alternativo, que é sua maior fonte de financiamento. Domina o gatonet [a instalação pirata de TV a cabo]. E cobra a taxa de segurança – que eu chamo de taxa-lhe-protejo-de-mim-mesmo. Mas o seu discurso é o da “ordem”, do combate ao tráfico, porque eles buscam a legitimidade, querem o poder, dialogam com o poder. Eles têm um projeto de estado. É diferente de quem nunca esteve no estado – nem nas suas escolas, nem na sua saúde. Eu não estou dizendo com isso que você não tenha que enfrentar o tráfico para enfrentar só a milícia. O que você não pode fazer é ficar escolhendo quem vai enfrentar. Crime é crime e tem que ser enfrentado. Hoje não estamos enfrentando quem é mais perigoso.
E a milícia reproduz as hierarquias do Estado?
Não necessariamente. Tinha muito cabo, muito sargento dono de milícia, que empregava gente de patentes mais altas. É gente que vive nas comunidades e que já tinha relações antigas ali. Então eles dominam essas atividades econômicas que são extremamente lucrativas. Tivemos acesso ao faturamento só com o transporte alternativo de uma das milícias. Eles faturavam R$ 60 mil por dia. Esse dinheiro compra muita arma e muita gente – e serve para fazer campanha. O domínio territorial das milícias se transforma em domínio eleitoral. Todo miliciano é reconhecido pela sua capacidade de brutalidade, mas é também dono de um centro social e faz atendimento, o que é típico da máfia. É um braço de terror e outro braço de assistência.
“O estado não é ausente. Na zona sul ele leva serviços. Na favela, os instrumentos de controle. E o controle pode ser leiloado”
“O estado não é ausente. Na zona sul ele leva serviços. Na favela, os instrumentos de controle. E o controle pode ser leiloado”
Como são esses centros sociais?
São casas que oferecem atendimento odontológico e ginecológico, cabeleireiro, tiram documentos, fazem festas. E muitas vezes são conveniadas com o poder público, recebem dinheiro do estado. É mais do que um desleixo do poder público, é o poder público que se sustenta através do estado leiloado. Eu diria que, hoje, aqui na Assembleia Legislativa, 90% dos deputados têm centro social – o que não quer dizer que eles sejam todos milicianos, mas mostra o estado da democracia aqui no Rio.
E, quanto mais tempo esses centros sociais continuarem lá, mais difícil vai ser se livrar deles, não é?
Até porque é diferente do tráfico. Para livrar-se do tráfico, o estado fala: “Vou botar uma UPP aí, a polícia vai entrar, saiam”. Mas você vai fazer o que com a milícia? A milícia é a polícia. O único jeito de combatê-la é com inteligência policial. Você precisa olhar para dentro da sua polícia, saber quem é quem, precisa de investigação. Nós conseguimos colocar mais de 500 milicianos na cadeia com a CPI, e claro que isso é importante. Mas tirar da milícia esse território e esse poder econômico é muito mais importante que as prisões, e isso não foi feito.
O poder delas então não diminuiu?
Na época da CPI eram 170 áreas dominadas pelas milícias, hoje são mais de 300. Porque apenas prender não elimina a milícia, inclusive porque ela continua comandando de dentro da cadeia. Hoje a milícia mata uma juíza, ameaça um parlamentar, tortura jornalistas. Ano que vem ela vai eleger gente para a Câmara dos Vereadores.
E como faz para combatê-las?
Tem que ter vontade política de enfrentá-las, não basta vontade policial, não basta prender. Tem que tirar delas o domínio do transporte alternativo – o prefeito até agora não fez nada em relação a isso. Para isso, claro, o transporte público tem que funcionar. A Agência Nacional de Petróleo tem que fiscalizar a distribuição do gás – não fiscaliza. Milícia até hoje não é nem crime no Brasil. Se um membro é condenado, é por formação de quadrilha, tentativa de homicídio, homicídio, porte de arma... O projeto para criminalizar a milícia está tramitando desde 2009 no Congresso, mas ninguém tem interesse em votar. Em 2009, fui ao Congresso Nacional, em Brasília, para dizer que essa realidade era só do Rio, mas em breve seria nacional. Voltei agora em 2011 pra dizer “essa realidade já é nacional”. Porque o governo não fez p... nenhuma. O que leva o Rio de Janeiro a ter milícia não é uma exclusividade carioca. Polícia mal paga, polícia e política envolvidas em domínio territorial, clientelismo e assistencialismo político misturados: esses ingredientes você encontra no Brasil inteiro. Hoje tem coisa muito semelhante às milícias do Rio em muitos lugares do Brasil.
E, enquanto você está sozinho defendendo essas medidas, você fica numa posição muito frágil, não é?
Se matam você, acaba o problema deles... Não, ainda tem alguns promotores, alguns poucos juízes. Tinha, por exemplo, a Patrícia Acioli.
Você conhecia a Patrícia?
Eu tinha pouco contato com ela, mas admirava o trabalho que fazia. Ela me procurou na época da CPI, me pediu o relatório, que ajudou nas investigações dela. A morte dela, para mim, foi um baque muito forte, uma barreira que eles venceram. Quando os caras matam uma juíza, usando arma do estado e munição do estado, isso não é um descuido, é um recado. Prenderam o assassino e, no dia seguinte, o comandante do batalhão foi visitá-lo na cadeia. Então é uma afronta. É o crime organizado peitando, três anos depois da CPI. Isso não mostra enfraquecimento. Depois do crime, eu recebi o filho da Patrícia aqui. Ele estava muito emocionado e veio me falar que a mãe dele tinha votado em mim, que ela gostava muito de mim, que ele queria acompanhar o mandato e que ele só queria me pedir uma coisa: para eu não desistir. Isso foi muito forte.
Mudou muito o modo como você encara o risco que está correndo?
Muito. Acho que, no fundo, eu acreditava que era difícil eles fazerem alguma coisa comigo. Eu não achava que eles fossem capazes de fazer alguma coisa, porque a consequência ia ser muito grande, ia dar uma m... muito grande. Com a morte da Patrícia, isso em mim teve uma mudança radical.
E aí, logo depois, as ameaças contra você começam a se intensificar.
Pois é. O assassinato dela foi em agosto, em outubro eu começo a receber uma ameaça atrás da outra, num ritmo que eu nunca tinha recebido. Foram sete num mês, duas por semana. Antes disso, tinham sido 20 ao longo de dois anos e meio. E aí mexe muito.
Foi aí que você resolveu sair do país?
Sim, isso é importante esclarecer. As ameaças foram chegando e eu comecei a encaminhá-las para a Secretaria de Segurança, e não recebia nenhum retorno. Um dia, eu recebo uma documento num papel timbrado da coordenadoria de inteligência da polícia militar. Papel oficial, assinado, que falava de “informações contundentes de risco”, envolvendo o Carlão, que fugiu da cadeia e teria recebido R$ 400 mil do Tony para me matar.
E você conhecia essas pessoas? O Carlão e o Tony?
Claro, foram indiciados por nós na CPI. O Carlão tinha acabado de fugir, pela porta da frente da cadeia. É gente poderosa, ele tinha um escritório dentro da detenção. Aí eu peguei o telefone e liguei para o Mariano [José Mariano Beltrame, secretário de Segurança do Rio], para saber que providência eles estavam tomando. O Mariano não sabia de nada. Um documento oficial de um órgão subordinado à secretaria, como é que o secretário não sabe? Isso foi um sinal claro para mim de que eles não estavam fazendo nada. Foi então que entrei em contato com o pessoal da Anistia Internacional, e eles se ofereceram para me tirar por uns tempos do Rio. E eu aceitei com três objetivos: primeiro, distensionar minha família. Segundo, reforçar minha segurança. Eu já tinha pedido antes, mas eles não estavam atendendo, não por má vontade, pura burocracia. Seria o tempo para trocar o carro, pegar um com uma blindagem melhor, o que foi feito. E, terceiro, denunciar que as milícias estão mais fortes e que essas ameaças que eu estou recebendo não estão sendo investigadas.
E aí veio a insinuação de que a história toda não passava de marketing político para lançar sua candidatura a prefeito.
Sim. No segundo dia depois que cheguei à Espanha surge uma informação na mídia de que eu estaria indo para dar palestras numa agenda que já estava marcada. Uma coisa totalmente estapafúrdia. E aí o representante da Anistia teve que dar uma entrevista no rádio no Brasil para desmentir essa versão. E, conforme o Boechat [o jornalista Ricardo Boechat, da BandNews] disse no ar, essa história foi plantada pela própria equipe do prefeito. Para o prefeito fazer isso, ele deve estar incomodado com a minha candidatura.
E como é a construção política dessa candidatura? É viável mesmo?
Olha, é uma candidatura dificílima, porque a disputa é muito desigual. O Eduardo [Paes, atual prefeito, que busca a reeleição] tem 18 partidos ao lado dele, inclusive duvido que ele consiga lembrar os nomes de todos. Fora Fifa, COI, CBF. Então vai ter muita gente com muito dinheiro, muito recurso. Nós temos gente trabalhando de graça e ideias.
Vai ter um esforço de criar uma coligação, de atrair outros partidos?
A gente está muito empenhado no debate de programa. A grande aliança é com a sociedade civil. Quando o programa estiver pronto, no início do ano que vem, aí em cima da proposta de cidade a gente vê quem quer apoiar. Interessa muito o apoio da Marina Silva, que está num campo ético. Vou conversar com o Romário, por que não? O Romário tem sido um aliado nas brigas nossas contra a CBF. Estamos conversando com o Gabeira.
Quem é que financia sua campanha?
Ninguém. Não tem dinheiro. Se você pegar as contas, é de rir.
Ninguém?
Tem assim um primo que deu um dinheiro, um militante que organizou uma festa. O cara pode ajudar com R$ 1 mil, que nas grandes campanhas não significam absolutamente nada, mas para a gente é um luxo. O José Padilha, que é um grande amigo, quer reunir um grupo de empresários que queiram ajudar.
E essa questão de financiamento de campanha, isso é o nó da política brasileira?
Eu acho isso fundamental. O financiamento público de campanha é um passo importante, porque senão a eleição é mercado. Porque quem financia campanha não financia por simpatia, financia porque é negócio. Parte da sociedade ainda acha que é um absurdo gastar dinheiro público com campanha. Acontece que a gente gasta muito mais dinheiro público com financiamento privado, porque a fatura é alta. No nosso modelo político, o poder do dinheiro determina o resultado eleitoral e isso faz com que a eleição vire um grande negócio. Olhe para as empreiteiras. Quando você vê o Eike Batista ter uma isenção enorme do governo Cabral e depois contribuir com a campanha dele com exatamente 1% do valor que ele teve de isenção, você vê o que a eleição virou.
E um setor que tem poder econômico no Brasil é o tráfico de drogas.
O tráfico de drogas, de armas...
Você acha que tem dinheiro do tráfico de drogas e de armas nas campanhas eleitorais pelo Brasil?
Não tenho a menor dúvida. Olha só, todo grande negócio precisa de força política, seja lícito ou ilícito. O crime é um grande negócio. O crime não é feito por um desvio de personalidade, alguém que apanhou muito na infância. Ele está dentro da lógica do capital, do investimento, do lucro. E todo grande negócio precisa ter trânsito no Congresso, no Senado, nos ministérios.
Como você vê a política de drogas no Brasil? Como resolve esse problema?
A lógica repressiva às drogas é uma catástrofe no mundo. O resultado da política de repressão das drogas é o aumento do consumo e da violência. Esse é um debate fundamental de caminhar para o campo da saúde. Enquanto for ilegal esse é um debate exclusivamente policial e isso é uma barreira gigantesca. Eu sei o problema que é. Perdi muitos amigos por conta de drogas. Quem tem alguém drogado em casa sabe o drama que é.
Seja crack ou seja álcool?
Seja o que for, pode ser droga legal ou ilegal, não dá para ser insensível. A gente só vai ganhar esse debate na hora que a sociedade entender, inclusive os setores mais conservadores, que esse não é um discurso de estímulo à droga. Não pode ser um debate assim: eu sou progressista e você é moralista. Quem ganha com isso é o comércio ilegal.
E agora você está terminando uma nova CPI, não é?
Desta vez para investigar o comércio de armas. Vai fazer tanto barulho quanto a das milícias? É uma CPI diferente. Desta vez, não vai ter indiciamentos, até porque o estado nem sequer sabe quem são as pessoas envolvidas. Há dez anos nenhum traficante de armas é preso no Rio de Janeiro, apesar da quantidade absurda de armas que tem por aí. Desta vez vai ser uma CPI muito propositiva no que diz respeito às falhas do poder público no comércio ilegal de armas. Porque o comércio de drogas já nasce ilegal. Arma não. A arma é produzida na fábrica, de maneira legal, só depois uma parte grande da produção é desviada para o comércio ilegal. E o estado tem um descontrole absoluto. Exército não troca informação com polícia federal, que não troca com a polícia civil. Não compartilham dados, não produzem inteligência. A gente quer apontar o que poderia ser feito. É uma CPI pedagógica. Aliás todo meu mandato a gente acha que tem um caráter pedagógico, de construir um novo olhar e uma nova compreensão sobre as coisas. De não achar que o jeito como as coisas são é natural ou que é impossível mudar.